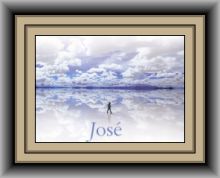(1320 ou 1325-1355)
Inês de Castro era filha natural de Pedro Fernandes de Castro, mordomo-mor do rei Afonso XI de Castela, e de, Aldonça Lourenço de Valadares que era portuguesa. O seu pai, era um dos fidalgos mais poderosos do reino de Castela.
Em 1339 o príncipe Pedro, casou, herdeiro do trono português com Constança Manuel, mas seria uma das aias de Constança, D. Inês de Castro, por quem D. Pedro viria a apaixonar-se. Este romance começou a ser comentado e muito mal aceite pelo povo e própria corte.
O rei D. Afonso IV não aprovava esta relação, sob o pretexto da moralidade, não só por motivos de diplomacia, mas também devido à relação de amizade de D. Pedro com os irmãos de Inês, Álvaro Pirez de Castro e Fernando de Castro. Os fidalgos da corte portuguesa, sentiam-se ameaçados pelos irmãos Castro, pressionavam o rei D. Afonso IV para afastar esta influência do seu herdeiro. Assim sendo, o rei mandou exilar em 1334, Inês no castelo de Alburquerque, na fronteira castelhana. No entanto, a distância não teria apagado o amor entre Pedro e Inês que, segundo a lenda, continuavam a corresponder-se com frequência.
Constança morreu ao dar à luz, em Outubro do ano seguinte, o futuro rei Fernando I de Portugal. O infante Pedro, ficando viúvo, mandou Inês regressar do exílio e os dois foram viver juntos, situação que provocou grande escândalo na corte, para desgosto de El-Rei seu pai. Começou então uma desavença entre o rei e o infante.
O Rei tentou remediar a situação casando novamente o filho com uma dama de sangue real. Mas Pedro rejeitou, alegando que não conseguia ainda pensar em novo casamento, porque sentia ainda muito a perda de sua mulher Constança. Entretanto, fruto dos seus amores, Inês foi tendo filhos de D. Pedro: Afonso em 1346 (que morreu pouco depois de nascer), João em 1349, Dinis em 1354 e Beatriz em 1347. O nascimento destes veio agravar a situação: D. Afonso IV, durante o reinado de D. Dinis sentira-se em risco de ser preterido na sucessão ao trono devido aos filhos bastardos do seu pai. Agora circulavam boatos de que os Castros conspiravam para assassinar o infante D. Fernando, herdeiro de D. Pedro, para o trono português passar para os filhos de Inês de Castro.
Entretanto, o reino de Castela encontrava-se em grave agitação com a morte de Afonso XI e a impopularidade do reinado de D. Pedro I de Castela, cognominado o Cruel. Os irmãos de Inês sugeriram a Pedro que juntasse os reinos de Leão e Castela a Portugal, uma vez que o príncipe português era, por sua mãe, neto de D. Sancho IV de Castela. Em 1354 convenceram-no a pôr-se à frente da conjuração, na qual Pedro se proclamou pretendente às coroas castelhana e leonesa. Foi novamente a intervenção enérgica de Afonso IV de Portugal que evitou que tal sucedesse. O rei mantinha uma linha de neutralidade, abstendo-se de intervir na política de outras nações, o que lhe permitia paz e respeito com os reinos vizinhos.
Depois de alguns anos no norte de Portugal, Pedro e Inês tinham regressado a Coimbra e se instalado no Paço de Santa Clara. Mandado construir pela avó de Pedro, a Rainha Santa Isabel, foi neste paço que esta rainha vivera os últimos anos, deixando expresso o desejo que se tornasse na habitação exclusiva de reis e príncipes seus descendentes, com as suas esposas legítimas.
Havia boatos de que o príncipe tinha se casado secretamente com Inês. Na família real, um incidente deste tipo assumia graves implicações políticas. O rei D. Afonso IV decidiu que a melhor solução seria matar a dama galega. Na tentativa de saber a verdade, o rei ordenou dois conselheiros seus dizerem a Pedro que ele podia se casar livremente com Inês se assim o pretendesse. D. Pedro percebeu que se tratava de uma cilada e respondeu que não pensava casar-se com Inês. A 7 de Janeiro de 1355, o rei cedeu às pressões dos seus conselheiros e do povo e, aproveitando a ausência de Pedro numa excursão de caça, enviou Pêro Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco para matarem Inês de Castro em Santa Clara. Segundo a lenda, as lágrimas derramadas no rio Mondego pela morte de Inês teriam criado a Fonte dos Amores da Quinta das Lágrimas, e algumas algas avermelhadas que ali crescem seriam o seu sangue derramado.

A morte de Inês provocou a revolta de D. Pedro contra D. Afonso IV. Após meses de conflito, a rainha D. Beatriz conseguiu intervir para selar uma paz em Agosto de 1355.
(
Wikipédia livre)
O episódio dos amores infelizes de Pedro e Inês que o génio lírico do nosso trágico e do nosso épico quinhentistas, Ferreira e Camões, imortalizaram, depressa se vê envolvido pelo manto diáfano da poesia, assumindo-se como tema de idiossincrasia mais perfeita com radicação no país, antes do Sebastianismo.
Desde as crónicas quatrocentistas, as Trovas de Garcia de Resende, a Visão de Anrique da Mota, a tradição popular, que a imaginação e a sensibilidade estética de diversos autores transfiguram e recriam o tema inesiano e fazem-no ascender a um lano por assim dizer lendário e intemporal, paralelo ao da fábula grega.

O próprio Fernão Lopes encarece a aura mítica de Inês que merece maiores honras do que as heroínas da poesia e da mitologia clássicas, Ariadne e Dido. A par das descrições objectivas de Fernão Lopes e Rui de Pina, a Crónica de Manizola enfatiza a beleza de Inês, «colo de garça», a sua «boa geraçam», a celebração do casamento, que Pedro não confessara, porque a chave deste segredo tinha deitado no mar, os presságios de Inês, a culpa dos conselheiros e a consequente atenuação da de D. Afonso IV, a união dos enamorados que jazem ambos os dous juntos por que ja que se apartaram na morte ficassem juntos nas sepulturas. Na Crónica de Acenheiro, a idealização da figura de Inês surge filtrada através dos argumentos que aduz em sua defesa, na presença do rei: a sua inocência, a orfandade dos filhos de Pedro e Inês, seus netos, a tristeza que traria ao príncipe a morte da amada. Além das advertências, de feição moralizante, sobre os riscos do amor, nas Trovas de Resende, o tratamento do tema, embelezado esteticamente com elementos petrarquistas, adquire profundidade e intimismo característicos da poesia quinhentista. Assim se pode verificar que muitos dos motivos e recursos dramáticos de Ferreira, na Castro, já se encontravam elaborados nos textos, em prosa e em verso, que a precederam. Não quer isto dizer que o nosso tragediógrafo desmereça, por esta razão, em originalidade. Pelo contrário, reside precisamente nesta escolha do tema e na sua teatralização a marca da sua actualidade, da sua novidade estética, dentro dos padrões de sensibilidade da época. Albertino Mussato, o precursor de Petrarca, tinha em 1314 composto e lido publicamente a Ecerinis, a primeira tragédia moderna de inspiração senequiana, de assunto nacional contemporâneo, que se tornaria mentora, no Renascimento, de um tipo de tragédia que já existia nas literaturas grega e latina. O drama histórico – apesar do carácter poético-lendário de que se revestia a verdade histórica – atraía os gostos dos poetas de toda a Europa, da Itália à França, à Inglaterra, a Portugal, que glosaram, por vezes, os mesmos temas e dentro dos mesmos moldes. O fascínio da história da Antiguidade e da história pátria, que caracterizou o movimento humanista, aliado a um intercâmbio cultural e mesmo geográfico entre os diversos autores, explica o tema comum de muitas tragédias por toda a Europa.
No entanto, podemos afirmar que a própria expressão lírica e os seus recursos e ingredientes servem para acentuar os contrastes luz/sombra, claro/escuro da alma humana, verdadeiro diapasão da essencialidade dramática. O lirismo petrarquista, no seu jogo intelectivo, assente numa estratégia da reduplicação do sujeito da enunciação em relação ao sujeito do enunciado; na valorização das capacidades perceptivas, em ue avulta a prevalência da luz, do ver e do olhar, de inspiração plotino-ficiniana; na simplicidade estilística, que vive do ritmo e da harmonia interna do verso – conseguida por vezes por subtis alterações, na repetição de esquemas sintácticos e lexicais – exprime admiravelmente os contrastes do sentimento amoroso, o debate passional.
Nair Nazaré Castro Soares, Universidade de Coimbra (extractos).
JDACT
Tu, só tu puro Amor, com força crua,
Que os corações humanos tanto obriga
Deste causa à molesta morte sua,
Como se fora pérfida inimiga.
Se dizem, fero Amor, que a sede tua
Nem com lágrimas tristes se mitiga,
É porque queres, áspero e tirano
Tuas aras banhar em sangue humano.
(Camões)